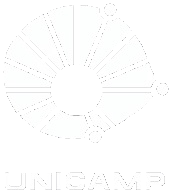“Se não respirar, não sente o cheiro ruim. Se não comer, não se engasga.”
Nos últimos anos, cresceram as estatísticas de feminicídio no Brasil. Entre 2013 e 2018, segundo o IPEA, esse aumento foi de 8,3%[1].
Feminicídio não é um fato novo, faz parte da história do Brasil (e do mundo), do nosso patriarcalismo. Ciúmes, “amor”, “honra”, raiva, dinheiro, álcool, drogas, falta de emprego, são muitas as razões que os homens criaram para justificar seus atos. A muitos desses atos, a sociedade chamou de crime passional (paixão ou ódio?).
Temos assistido a relatos espantosos de ataques, estupros, violências contra mulheres e meninas. Crescem as estatísticas de estupro, praticados contra todas as faixas etárias, mas em sua maioria contra crianças e adolescentes – 29% é a taxa de ocorrências de violência sexual contra crianças até 10 anos registradas no SUS (Mapa da Violência de 2015[2]).
No ano de 2017, segundo dados constantes no Painel da Violência alojado no site do Senado Federal, ocorreram 4.928 óbitos de mulheres em decorrência da violência e 220.514 notificações de violência contra mulheres em órgãos de Saúde[3].
Em tempo de pandemia, com as medidas de afastamento social que tiveram de ser adotadas neste ano de 2020 em virtude da expansão da COVID 19 no país e no mundo, cresceram as estatísticas de violência contra mulheres. Somente nos meses de março e abril de 2020, foram registrados 195 casos de feminicídio[4].
Segundo Nota Técnica elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve aumento de casos de assassinatos de mulheres em 2020 e, desses, 33% foram classificados como feminicídio. A nota aponta também provável subnotificação de casos, em função da pandemia e da convivência doméstica entre mulheres e seus agressores[5].
Essas muitas formas de violência extrema contra mulheres e meninas vêm carregadas de total desrespeito aos seus corpos e desejos, objetificação, desumanização, extrema crueldade. Essa é a marca da violência. Não raro nos deparamos com corpos mutilados, humanidades destruídas.
A violência revela-se também nas palavras. Nos últimos dois anos, acirraram-se os conflitos e expressões machistas, misóginas, racistas em nossa sociedade, com o crescimento da onda política ultraconservadora no país e em alguns outros países. As redes sociais transformaram-se em canais de transmissão da violência contra mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas, nordestinos, pobres. Por meio delas, cada um e cada uma se sentiram autorizados a expressar seus mais profundos preconceitos, seu mais arraigado ódio, seu mais patético sentimento de superioridade, tão bem descrito e explicado pelo psicanalista antilhano Frantz Fanon (2008).
Também por meio das redes sociais produziu-se o contraditório; são diuturnamente veiculados conteúdos reflexivos, críticos de nossa história patriarcal e escravista, de nossa realidade atual. São esses veículos muitas vezes articuladores de ações de resistência e denúncia. Mas não podemos negar que, apesar de toda resistência, de toda indignação, os assim chamados crimes de ódio ganham seu espaço no tecido social, nas mídias, na vida[6].
Diante da denúncia das violências de gênero, da indignação e solidariedade de muitas mulheres e também de homens, diante da firme exigência de justiça e cumprimento das leis de proteção às mulheres, ouvem-se com frequência as já conhecidas frases: “mas ela estava bêbada”, “ela estava na balada”, “mas olha a roupa que estava usando”, “por que estava na rua àquela hora?”, “ela estava pedindo”, “as pessoas devem ter responsabilidade e não se colocarem em situação de perigo”, e tantas outras frases que, mais ou menos evidentes, imputam às vítimas a responsabilidade pela violência sofrida.
Na sociedade patriarcal, machista, culpa-se então a vítima, com argumentos que, além de rasteiros, mostram-se ignorantes dos dados reais sobre violência sexual no Brasil e condições concretas de vida da população. Crianças com menos de 10 anos sofrem abuso dentro de suas casas, como mostram os dados da pesquisa de Zambom, Jacintho, Medeiros, Guglielminetti & Marmo (2012).
Segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado em 2020, 53% dos casos registrados de estupro são praticados contra meninas de até 13 anos: a cada 4 horas uma menina de menos de 13 anos é estuprada no Brasil, por um conhecido[7].
Aquelas frases feitas, do tipo “também, mas ela...” não só não cabem na realidade das crianças vítimas de violência como mascara, esconde essa triste realidade e desresponsabiliza o homem adulto abusador. O que essas crianças “estavam pedindo”? Certamente, se considerarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças pedem, esperam, têm direito ao afeto, à segurança, à proteção, à educação, ao lazer. E qualquer forma de violência sobre seus corpos é crime[8].
As frases feitas ignoram também um componente central da vida brasileira: as mulheres trabalhadoras. Somos muitas, mais da metade da força de trabalho do país, em empregos formais e informais[9]. Muitas voltam à noite para casa, outras saem às 5 da manhã para chegarem cedo no trabalho. Podemos culpá-las por estarem na rua e nos transportes públicos nos horários que os homens consideram “impróprios”?
Para além desses componentes da realidade, a Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, incisos I e II, garante a todo cidadão e cidadã brasileiros os mesmos direitos e liberdade de ação e não coação, nos limites da lei. E em seus artigos 1º e 3º, declara que toda pessoa tem direito ao respeito e à dignidade, livre de qualquer forma de discriminação[10]. Se assim é, limitar direitos em nome da segurança das mulheres, sugerir que, se querem ser respeitadas e protegidas, precisam renunciar a seu direito de estar onde e quando quiserem, de serem o que e como quiserem, seria mesmo uma forma de proteção, ou uma reafirmação do controle sobre seus corpos e da incapacidade e/ou recusa dos homens de aprenderem o respeito e o autocontrole, de se colocarem em posição de igualdade com todas as mulheres? Seria, então, reafirmação do patriarcalismo, do machismo nosso velho conhecido.
Na perspectiva da educação, em nossas culturas brasileira e latino-americana, homens e mulheres passam por distintos e complementares processos de socialização; aos primeiros, ensina-se a dar vazão à sua “natureza” agressiva, competitiva, empreendedora, a buscar seu lugar de mando, a tomar o que supostamente lhes pertence. Ensina-se o exercício do sexo sem compromisso, a ocultação dos afetos, a repressão das emoções. Com certeza a maioria dos homens, quando meninos, ouviu a frase “engole o choro, homem não chora!”; pais orgulhosos de seus filhos machos disseram sem pudor “segurem suas cabras que meu bode está solto” (Accorsi & Maio, 2019).
Aos indícios de traição e infidelidade, aos casos de agressão, violência física e sexual, deparamo-nos com o discurso justificador fundamental – é da natureza dos homens.
Meninas, por outro lado, aprenderão a docilidade, a delicadeza, a passividade, o servilismo, a sedução sutil. Mas não todas: meninas negras, não. Das meninas e mulheres negras espera-se a força, a resistência, o corpo que aguenta dor e a dureza do trabalho; e também o corpo a serviço do desejo/posse. Seguindo nossa tradição escravista, meninas brancas aprendem a serem princesas, meninas negras a serem servas. Mas ambas, na desigualdade de suas vidas marcadas pela branquitude e pelo racismo, aprenderão a submissão, o assujeitamento a um mundo dirigido pelo patriarcalismo (Carneiro, 2003).
Desde cedo, meninas são ensinadas a controlar seus impulsos, sua voz, seus gestos, seus desejos: “senta direito, fecha as pernas”, “fala mais baixo, menina não fala assim”, “se você sair com essa roupa, o que vão pensar de você?”, “cumpra suas obrigações de mulher”. Diante da violência, das assustadoras estatísticas de estupro contra meninas e mulheres, impõe-se a lógica patriarcal: controla-se a conduta das mulheres para que os homens não tenham de aprender a controlar seus impulsos “naturais”.
Se você não der oportunidade, os homens não serão tentados.
Com frequência, ouvimos relatos sobre escolas públicas e privadas que proíbem que as meninas frequentem a escola de shorts, saias e blusas curtas.
Indagadas/os sobre a razão da proibição, gestoras/es escolares explicam que quando as meninas usam esses trajes, os meninos perdem a concentração. Ou seja, a escola opta por controlar o vestuário das meninas, ao invés de ensinar aos meninos respeito e autocontrole.
A essa lógica da sociedade patriarcal, chamamos de cultura do estupro. Ao contrapor natureza – masculina e conduta – feminina, cria-se uma impossibilidade: a de tratar igualitariamente a educação de meninas e meninos, a de construir relações de respeito e compartilhamento. Trata-se de lógica injusta e intransponível: opor natureza e conduta. Nessa lógica, não se pode controlar a natureza, mas sim a conduta. Portanto, incide sobre as mulheres a responsabilidade não só sobre seus atos, mas sobre os atos dos homens.
Isentos de responsabilidade e culpa, homens ditos “normais”, com quem cotidianamente convivemos, praticam e vivem o legado do patriarcalismo: certamente não são e não serão todos estupradores; cultura do estupro é mais abrangente que o ato em si. Mas muitos serão agressores de toda ordem (física, moral, psicológica, patrimonial), violadores, omissos, assediadores, por meio inclusive de galanteios (não raro ouvimos, em uma mesa redonda em congresso científico, a frase dita por algum homem ilustre “que bom que temos uma mulher nessa mesa, para enfeitar nosso evento”. Para isso servem as mulheres cientistas? Para enfeitar?). Com frequência mulheres serão assediadas no trabalho (Heloani, 2016; 2018).
Não raro, homens de todas as classes sociais e níveis de escolaridade, repetirão as frases justificadoras – “também, mas ela ...”. E isentarão os machos delinquentes. Ou mesmo, quando os atos são violentos demais para serem naturalizados, os abusadores serão chamados monstros, anormais. Retirados da categoria homens normais, serão o bode expiatório, o repositório atenuante das violências cotidianas. A cultura do estupro, ao permitir que se projete em alguns o peso e responsabilidade pela violência extrema, permite a negação das violências do cotidiano, isenta de culpa, impede o amadurecimento dos homens em geral.
Como nos ensina Yves de la Taille (2010), em uma sociedade marcada pela moral dominante e não pela ética, vergonha e culpa são substituídas por simples obediência a regras hegemônicas. Sob o patriarcalismo, vale a lei da selva – salve-se quem puder. E que se calem as feministas furiosas, que insistem em nos fazer pensar, sentir, sofrer com nossos atos e ditos!
Esse tem sido um forte componente de nossos conflitos e violências de gênero na contemporaneidade: o silenciamento, o controle das palavras/atos daquelas que se insurgem contra a opressão de gênero. À insurgência, à indignação das mulheres, homens chamam de censura. Reivindicam e advogam por seu direito à palavra, à expressão livre de seus preconceitos e da violência. E rotulam: “feministas furiosas”, “feminazis”, “contra a família”, “mal comidas”, são alguns dos rótulos que recebem as mulheres que lutam por justiça e igualdade. Não à toa a palavra censura aparece nos discursos machistas. Mal acostumados ao controle de seus supostos “impulsos naturais”, homens confrontados com os interditos da razão feminista os entenderão, freudianamente, como frustração, castração (Freud, 2010).
Ao recusar o interdito de suas macro e micro violências, o patriarcalismo impõe o cale-se! às mulheres em geral, às feministas em especial. Não como censura, mas como afirmação de um lugar social de submissão e “inferioridade”.
O feminismo, que não é o feminino equivalente de machismo, teve suas origens no ocidente no século XIX, marcado pela luta por direitos fundamentais, como educação, trabalho, voto, direitos reprodutivos. Se nos primórdios podemos dizer que se tratava de um feminismo branco, de classe média, as lutas das mulheres negras vieram incorporar ao movimento a luta antirracista e o direito à vida, entre outros componentes (Pinto, 2010; Davis, 2016).
O movimento torna-se em nosso contexto social cada vez mais necessário, urgente. Não mais o feminismo branco de classe média, mas um feminismo plural – feminismo negro, dos trópicos, latino-americano, indígena, trans, que abraça a todas/todes. O feminismo de Lélia Gonzalez (1983), Sueli Carneiro (2003), Angela Davis (2016), e tantas outras mulheres que nos têm ajudado a entender e transformar esse mundo.
Feminismo é luta igualitária, luta por direitos para todas, todos, todes. Não é ódio aos homens, como vulgarmente se imagina ou declara. É defesa do direito à diferença, à vida, à distribuição equânime de bens sociais, à justiça igualitária, à não violência, constrangimento, impedimentos por questões de gênero.
Enquanto nossas sociedades forem desiguais, enquanto mulheres, negros e pobres forem inferiorizados, tiverem menos acesso aos bens sociais e materiais e menor expectativa de justiça, enquanto houver violência contra as mulheres, genocídio de indígenas e das juventudes negras, assassinatos de LGBTQIA+, exclusão dos mais pobres, das pessoas com deficiência, estigmatização e encarceramento da loucura, enquanto meninos seguirem aprendendo a tomar e conquistar sem afeto e meninas a amar com servidão, o feminismo terá sentido e seguirá sua luta.
Esse texto não esgota o assunto, nem pretende uma supergeneralização que encarceraria homens em um único padrão hegemônico; não aprofunda a imbricação raça, classe, gênero, estruturante de nossa sociedade. É um começo de conversa, uma provocação.
Por Ângela Soligo - UNICAMP
para o BLOG FE PUBLICA
Referências:
Acoorsi, Fernanda Amorim; Maio, Eliane Rose. O objeto jogado do quarto andar era um corpo - de mulher. Revista diversidade e educação, v. 7, p. 27-38, 2019.
Carneiro, Sueli. Mulheres em movimento. Estudos Avançados 17 (49). 2003;
Davis, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo. 2016
Fanon, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA. 2008.
Freud, Sigmund. O mal estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras. 2010.
Gonzalez, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília: ANPOCS, 1983;
Guareschi, Pedrinho Arcides. Fascínios e temores: desafios éticos às novas tecnologias midiáticas. Fronteiras - Revista de Teologia da Unicap, v. 3, p. 14-39, 2020.
Heloani, Roberto. PDV: Violência e Humilhação. Revista da ABET, v. 17, p. 67-77, 2018.
Heloani, José Roberto M. Assédio moral: ultraje a rigor. DIREITOS, TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL, v. 2, p. 29-42, 2016
La Taille, Yves. Moral e ética: uma leitura psicológica. Psicologia: teoria e pesquisa, 26 (nº especial). 2010.
Pinto, Regina Célia. Feminismo, história e poder. Rev. Sociol. Política, 18 (36). 2010.
Zambom, M.P.; Jacintho, A.C.; Medeiros, M.M; Guglielminetti, R; Marmo, D.B. Violência doméstica contra crianças e adolescentes: um desafio. Revista da Associação Médica Brasileira, 58 (4). 2012
[3] http://www9.senado.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=senado%2FPainel%20OMV%20%20
Viol%C3%AAncia%20contra%20Mulheres.qvw&host=QVS%
[4] https://projetocolabora.com.br/ods5/mulheres-enfrentam-em-casa-a-violen… domestica-e-a-pandemia-da-covid-19
[6] https://portal.fiocruz.br/noticia/redes-sociais-e-violencia-dos-horrore…; Guareschi, 2020.