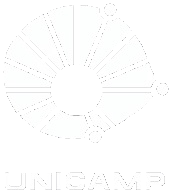Quando recebi o convite para escrever sobre racismo estrutural, fiquei um tempo pensando por onde começar, se faria um recorte inicialmente histórico, ou começaria com os dados da desigualdade racial no Brasil hoje, e acabei decidindo por iniciar contando uma história, um diálogo que tive há pouco tempo, quando a pandemia ainda não nos havia colocado em quarentena.
Eu voltava de um evento em Cubatão, onde fui falar sobre a importância do ensino de História da África, e o motorista que me trazia de volta a Campinas me disse: “Sabe, professora? Às vezes eu fico pensando: como os portugueses que descobriram o Brasil foram ‘raçudos’ – chegaram aqui, não tinha nada, e do nada eles construíram tudo”. Respirei fundo, e com respeito respondi: “Nada não, meu caro; aqui havia milhares de indígenas, comunidades diferentes, com suas línguas, cultura, vivendo, trabalhando e protegendo a natureza. E não foram bem os portugueses que construíram ‘tudo’. Por meio do tráfego negreiro, sequestraram e trouxeram da África milhares de negros escravizados, que trabalharam e iniciaram a construção de nação brasileira.”
Parto então dessa conversa para falar do racismo estrutural.
A história da América, assim como do continente africano, é marcada pela invasão dos povos europeus, que teve lugar a partir do século XV.
O Brasil não foi descoberto, pois para isso teria de ser terra vazia, inabitada. Só que não. Nosso país era fértil em gente, cultura e natureza. Foi invadido pelos portugueses, que desde sua chegada, buscavam tirar daqui todas as riquezas que podiam encontrar ou produzir – o pau-brasil que nos deu o nome, ouro, pedras, cana, café...
Em um primeiro momento do período de colonização, iniciou-se um processo de subjugação dos povos indígenas, sendo muitos dizimados, muitos submetidos a um violento intento de aculturação, que lhes negava o direito à própria língua, crenças e cultura, além do direito à terra que originalmente lhes pertencia.
Mas a exploração colonial necessitava de mais corpos, e foi da África que foram trazidos negras e negros sequestrados e escravizados, para trabalhar no campo, nas minas, nas casas grandes e, mais tarde, nos ofícios pesados das cidades.
Desde o início da invasão e colonização portuguesa, portanto, a organização social, econômica e política do país deu-se em bases desiguais. Escravizados, deculturados[1], negras e negros atuaram na construção da colônia na condição de peças, de instrumentos de trabalho, equiparados a animais de carga e ofício, sem direito a posses e à propriedade das terras em que trabalhavam e das edificações que levantaram.[2] Quem vai ao Pelourinho, em Salvador-BA, encanta-se com a bela e rica igreja de São Francisco e com as imponentes edificações, porém não se recorda das mãos negras que as construíram, ou dos pés que não podiam entrar na igreja erguida com seu trabalho.
As tecnologias aplicadas para subjugar o povo negro e garantir o sucesso da empresa escravista envolveram a separação de famílias, comunidades culturais e linguísticas, de modo a impedir a comunicação, organização e criação de laços entre as e os negros escravizados, bem como assegurar sua superexploração; envolveram também as táticas de desumanização e tortura, precárias condições de habitação, alimentação e padronização de vestimenta que garantisse o mínimo de pessoalidade aos sujeitos escravizados.
O racismo é a base, portanto, do modo como a sociedade brasileira organiza-se, constrói seus alicerces econômicos e culturais, situa socialmente e representa seus membros – brancos - humanos, negros - peças. Desumanizados, negras e negras não serão, desde a colonização, sujeitos de direitos.
É importante destacar que mesmo sob as condições adversas, o povo negro criou mecanismos de resistência, laços de fraternidade e cultura, estratégias de luta – os quilombos foram não a única, mas a forma mais organizada de luta, que tiveram definitivo papel na conquista, em 1888, da abolição de 300 anos de escravidão, a mais longa de toda a América.
Mas a própria abolição veio associada aos interesses da elite colonial, na medida em que se engendrava o processo de modernização econômica e, em função das leis que limitavam o tráfico negreiro e de uma política deliberada de branqueamento da população, o escravismo tornou-se menos interessante econômica e socialmente.[3]
Não se pode negar, no entanto, a centralidade do povo negro no movimento abolicionista. Porém, abolir significou um processo de desresponsabilização das elites pelo destino dos escravizados, ausência de leis de reparação, de proteção e de direitos cidadãos. Ao contrário, enquanto se criavam leis de incentivo à imigração europeia, que incluíam doação de terras e recursos financeiros para que europeus viessem para o Brasil, aos negros era impedida por lei a posse de terras e o acesso à educação formal. É exemplar da construção dessa desigualdade estrutural a Lei da Posse de Terras, de 1850, que proibia a posse de terras por meio do trabalho, sendo o Estado considerado o proprietário das terras, que as concedia ou vendia segundo suas conveniências.
Mesmo após a abolição, essa lei perdurou e na prática impedia que ex-escravos plantassem, produzissem de forma autônoma para seu sustento, pois a eles não era concedida a propriedade de terras, ao mesmo tempo em que eram doadas aos imigrantes europeus.
Na perspectiva da educação formal, escravizados eram proibidos de frequentar escolas, e mesmo depois de decretada a abolição, as escolas mantinham mecanismos de exclusão das crianças e jovens negros. Somente em 1924 as leis brasileiras tornaram obrigatório que as escolas públicas de ensino médio matriculassem estudantes negros.[4] Ainda nos dias de hoje, dados do INEP e do Censo Escolar evidenciam desigualdades de acesso e permanência de crianças e jovens brancos e negros à educação básica, principalmente nos anos mais avançados da escolarização. [5]
Estruturalmente, portanto, a república manteve uma divisão de classes de contorno escravocrata, que relegava o povo negro às camadas inferiores da sociedade.
Impedidos de ascender socialmente por meio do trabalho e de oportunidades educacionais igualitárias, aos negros restava o trabalho desqualificado e marginal, o que os mantinha e mantém presos à base da pirâmide social.
As práticas de exclusão econômica e social não ocorrem apartadas da cultura, das representações sociais sobre brancos e negros. Elas são a base do racismo, ao mesmo tempo em que dialeticamente são por ele legitimadas. Na prática, para que se consolide como sistema, a desigualdade deve ser naturalizada, apartada dos determinantes sociais, localizada nos grupos e sujeitos individuais.
O racismo revela então sua dimensão estruturante do modo de organização da cultura, das instituições, da vida, das relações.
Enquanto racismo institucional, define os princípios e modos de funcionar das políticas e sistemas educativo, jurídico, penal, de saúde, de comunicação, entre outros.
Em várias dimensões do sistema educativo, o racismo revela-se e define os contornos dos currículos e conteúdos escolares, das relações no interior das instituições. Podemos aqui apontar alguns bons exemplos.
Ao longo de décadas, as escolas ensinam uma história mundial e brasileira branqueada, que coloca ênfase e valor em nossos colonizadores e nas referências europeias. Estudamos sobre os gregos, sobre sua importância na cultura ocidental, mas tivemos, depois de anos de luta, de aprovar uma lei que determina o ensino de História da África na Educação Básica e nos cursos de formação de professores. Se no caso dos gregos, assumimos sua importância sem questionamentos, no caso de História da África, vamos nos deparar não só com questionamentos, como recusa e descaso, como mostra o estudo que desenvolvi com Caroline Jango e Edna Lourenço, sobre a consolidação do ensino de História da África no município de Campinas.[6]
No âmbito das relações intraescolares, são recorrentes os relatos de vivência da violência racista, por parte de estudantes negras e negros da educação básica, imposta por colegas, pelo corpo docente e pela equipe escolar, como mostra o livro “Aqui tem racismo”, de Caroline Jango, e a pesquisa “Violência e Preconceitos na Escola”, de âmbito nacional, organizada pelo Conselho Federal de Psicologia, entidades do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira e Universidade Federal de Mato Grosso.[7] Nos dois estudos, chamam atenção as vozes das crianças e jovens que identificam e falam do racismo e a queixa recorrente sobre a omissão da escola.
Olhando para nossa realidade atual, no contexto da pandemia da Covid 19, podemos identificar uma cruel dimensão do racismo institucional: todos já sabemos, estudos, gráficos e tabelas já nos mostraram que as atividades de ensino remoto, necessárias quando se impõe como princípio a preservação da vida, não atingiram ou não foram eficazes para todos os estudantes. A exclusão tecnológica deixa suas marcas na experiência de ensino-aprendizagem para muitas crianças e jovens. Nem todos puderam acessar as aulas, nem todos tinham os equipamentos e os recursos de internet adequados, nem todos contam com famílias com nível de instrução que permitisse apoiar seus filhos nas tarefas escolares. Nem todos, portanto, puderam aprender. Concretamente, foram as pessoas mais pobres, e entre elas um grande contingente de negras e negros, que menos puderam usufruir do ensino remoto, apesar de seus esforços e de suas professoras e professores. Mesmo diante dessa realidade, foram realizadas as provas do ENEM, que registraram níveis de abstenção superiores a 50%. Mas nas palavras do senhor ministro da Educação, o ENEM foi bem sucedido.
Afinal, bem sucedido em que? Se pusermos em oposição 1) os avanços conquistados com as mudanças nos objetivos do ENEM e com as políticas de cotas nas universidades públicas, notadamente a partir de 2012, que levaram aos bancos acadêmicos públicos novos corpos, corpos negros, indígenas; 2) os discursos racistas proferidos pelo senhor presidente da república, seus declarados preconceitos contra nordestinos, pessoas LGBTQIA+, mulheres, podemos inferir que, na lógica do atual governo, o ENEM foi um sucesso!
Ao promover exclusão de milhares de um processo que promove acesso das classes populares e grupos excluídos da disputa por uma vaga universitária pública, garante maiores probabilidades de acesso dos privilegiados de sempre: ricos, classe média, brancos, urbanos. Para coroar o processo, chamarão, como vem há anos sendo feito, de meritocracia. O sucesso dos mais aptos. Será?
Como considerar melhores aqueles que têm seu lugar garantido antes da disputa? Mas assim funciona nossa sociedade e nossa cultura racista.
Apresar de toda luta, de todo empenho dos movimentos negros, de todos os degraus já conquistados nesse caminho desigual, nossa estrutura funciona nas mesmas bases escravocratas que nos constituíram como nação, nossas instituições seguem produzindo e reproduzindo saberes seletivos, branqueados, que reforçam o privilégio branco e o descaso com os direitos de todos de forma equânime.
Nossa cultura segue os cânones escravocratas, desumaniza e cola nos corpos negros as marcas do racismo e da discriminação. Todos os dias, são impunemente assassinados e agredidos muitos José, João Alberto, Miguel, Ágata, Marielle. Todos os dias, nossa sociedade aceita, convive e justifica nossas violências racistas.
Até quando? Até quando nós, da Educação, seremos coniventes, silenciosos, displicentes, melindrados quando nos colocam diante de nossa responsabilidade na reprodução do racismo, na omissão e no epistemicídio?
Essas são algumas inquietações, indagações, de um texto que tem começo, mas não tem fim. Foi mesmo difícil terminá-lo, há muito que dizer, há muito que sentir.
Não para concluir, mas para provocar e convidar ao diálogo, deixo trechos do samba enredo de 2019 da Mangueira. Que ele cole em nós, como sonoridade, como desafio:
“Brasil, meu nego
Deixa eu te contar
A história que a história não conta
Com versos que o livro apagou
Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento
Tem sangue retinto pisado
Atrás do herói emoldurado
Mulheres, tamoios, mulatos
Eu quero um país que não está no retrato.
Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marieles, Malês.”
Profa. Dra. Ângela Soligo
Grupo de Pesquisa DiS – Diferenças e Subjetividades em Educação: estudos surdos, do racismo, gênero e infância
[1] Sobre o conceito de deculturação, sugiro a leitura de Fraginals, Manuel Moreno. Aportes culturales y deculturación. Em Ester Pérez e Marcel Lueiro, Raza y racismo. La Habana: Caminos. 2017.
[2] Para maior aprofundamento do tema, sugiro a leitura de Almeida, Sílvio Luiz. Racismo Estrutural. São Paulo: Pólen. 2019.
[3] Sugiro, para aprofundamento, a leitura de Moura, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo: Ática. 1988.
[4] Novais, M. Eliana. Professora primária: mestra ou tia? São Paulo: Cortez. 1987.
[5] Bonilha, Tamyris e Soligo, Ângela. O não-lugar do sujeito negro na educação brasileira. Revista Iberoamericana de Educación, 68:31-47. 2015.
[6] Soligo, Ângela; Jango, Caroline, Garnica, Tamyris & Lourenço, Edna. A consolidação da Lei 10.639 no município de Campinas-SP: Revista da ABPN – Caderno Temático História e Cultura Africana e Afrobrasileira: Lei 10.639/03 na Escola. V. 10 (nº especial). 2018.
[7] Jango, Caroline. Aqui tem racismo: um estudo das representações sociais e das identidades das crianças negras na escola. São Paulo: Livraria da Física. 2017; FENPBP; CFP; UFMT. Violência e preconceitos na escola: contribuições da Psicologia. Brasília: CFP. 2018.