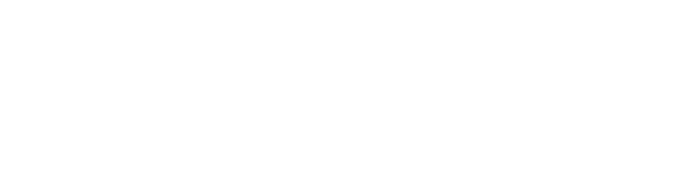Introdução
O trabalho de Paulo Freire é de suma importância para que fomentemos a educação e, muito mais do que isso, a educação crítica, libertadora e esperançosa de novas e melhores realidades. Afinal de contas, como o mesmo faz questão de ressaltar ao longo de sua extensa obra, a realidade que vivemos não é inexorável – é esta hoje, sob tais circunstâncias, mas poderia ser outra a partir da conscientização e eticização do mundo, a partir da libertação dos oprimidos que no mundo e com o mundo se relacionam.
Para que isso seja possível, o patrono da educação brasileira – como foi legalmente proclamado em 2012 – defende que a instituição escolar não deve ter seu papel reduzido àquilo que é vazio e distante dos valores democráticos. A preocupação escolar, na lente freireana, deveria e deve estar voltada à integração e ao despertar das grandes massas, à re-construção da consciência social e política (MAZZA, 2021). Para nada serve uma educação que não fomenta leituras de mundo que se fundam na possibilidade de que a humanidade intelija a concretude e comunique o inteligido senão para a manutenção do status quo, da arbitrariedade cultural, da dominação de uma classe de pessoas sob outra.
Entretanto, é com esta educação que nos deparamos ao analisar as políticas educacionais que vêm sendo impostas à rede estadual paulista. Sob o governo de Tarcísio de Freitas e a secretaria de Renato Feder, acompanhamos a intensificação da submissão da educação à lógica neoliberal, o esfriamento da relação educacional especialmente a partir de sua plataformização.
A lógica neoliberal e seu descompasso com a educação
Como Débora Mazza (2021) salientou em seu trabalho, a perspectiva freireana que propõe e luta pelo diálogo, pela amorosidade e pela re-humanização de todos aqueles que tiveram sua humanidade destituída por sua condição étnico-racial, de gênero e sexualidade, de classe etc não existe sem oposições. Como sugere Theodor Adorno, há um outro lado da moeda – o da frieza, da descompaixão, que em seus termos convive com a alienação e o sonambulismo da acriticidade. Em outras palavras, “[…] a frieza é expressão do mal-estar da cultura e se expressa na atitude passiva diante do sofrimento alheio, na atomização da sociedade que coloca os indivíduos em posições de choques, disputas e empurrões, na produção isolada e solitária que valoriza as escolhas individuais, na primazia dos valores da vida privada sobre os interesses públicos e coletivos, na sociedade do consumo que enfeitiça e coisifica processos, desejos e pessoas e no sentimento de indiferença diante do que acontece com o semelhante” (MAZZA, 2021: 210).
Sob a lógica neoliberal que tem governado a nova razão do mundo (DARDOT; LAVAL, 2016), é de suma importância que apreendamos maneiras de sermos flexíveis, empreendedores e avaliáveis a partir de noções distorcidas de desempenho e performance. Se antes a escola carregava consigo valores republicanos que, apesar de coexistirem com a reprodução de desigualdades, mantinham um ambiente propício e fértil para a construção da civilidade, da cidadania e da alteridade, hoje, sob essas políticas educacionais que simplesmente sucumbem à ordem global sem contra ela protestar como se esta fosse irreparável e irreversível, ela se tornou uma empresa (LAVAL, 2019) dedicada a desenvolver o capital humano, isto é, uma série de competências e habilidades que possam vir a ser mercadologicamente racionalizadas, aproveitadas e vendidas, uma vez que passam a constituir a força de trabalho.
É sabido que, por conta da pandemia de Covid-19, novos meios de comunicação precisaram ser explorados a fim de realizarmos – da melhor maneira possível – o distanciamento social que evitaria novas contaminações do vírus. Entretanto, a imersão virtual que as redes escolares continuaram fazendo mesmo após a superação do período pandêmico deve ser vista com atenção e rigor.
O Paraná correu para que São Paulo pudesse andar
Ao analisarem a situação da rede estadual paranaense, Renata Barbosa e Natália Alves (2023) se depararam com o excesso de telas às quais os alunos devem estar expostos. A “Redação Paraná” e o “Desafio Paraná” foram dois exemplos utilizados para ilustrar a submissão da educação às plataformas. Não por acaso, essa medida educacional foi aplicada sob a secretaria de Renato Feder, que em 2023 assumiu o mesmo cargo na rede estadual paulista e na qual replicou sua bem sucedida empreitada neoliberal.
Por conta disso, no estado de São Paulo, temos readaptadas e novas plataformas – como o Centro de Mídias SP, Tarefas SP, Khan Academy, Alura, Redação Paulista, Matific etc – que ditam, atualmente, o ritmo não mais de apropriação e construção de conhecimentos socialmente consagrados, mas de aprendizagem e realização de tarefas alheias àquilo que faz sentido para a realidade material da comunidade escolar. Afinal de contas, o discurso ideológico que mais envolve a tecnologia defende que seu uso, independentemente de seus objetivos, aponta para a modernização e o progresso. E como irônica e retoricamente questiona Christian Laval (2019: 191-192), “quem seria contra a ‘eficiência’, a ‘avaliação’, a ‘inovação’ e, sobretudo, quem se atreveria a se declarar contra a ‘modernização’?”.
Entretanto, como reforçam Barbosa e Alves (2023), jamais devemos desatrelar a tecnologia do uso que é feito da mesma. Suas intenções importam e, neste caso, não contribuem para um processo escolar menos truncado e mais amoroso e humanizador. Pelo contrário, a vigilância possibilitada pelas plataformas digitais está voltada “[…] à capacidade dos cálculos algorítmicos gerarem novas referências que envolvem padrões, de sucesso e desempenho acadêmico, competências e expectativas avaliativas, fornecidos pelo registro sobre, por exemplo, ‘a quantidade de tempo que um aluno precisa para resolver um problema, para registrar os estágios cognitivos na resolução de problemas, para medir a quantidade de instrução necessária e para rastrear a interação do aluno’ (Van Dijck; Poell, 2018, p. 3 – tradução livre) entre outros […]” (BARBOSA; ALVES, 2023: 10, grifos nossos).
Com isso, podemos notar as intenções neoliberais que pretendem naturalizar a rapidez, a racionalidade mercadológica, a produção frenética de resultados a nível de máquinas. O que essas políticas educacionais parecem não entender – ou entendem de maneira perversa – é que as máquinas, as plataformas e a tecnologia em geral devem estar a serviço dos estudantes, do corpo docente e da sociedade, não o contrário.
Conclusões finais
Salientamos que, de acordo com o que fora suscitado por Carlos Dias et al. (2024), a Secretaria de Educação de São Paulo acatou as novas plataformas digitais sem qualquer compromisso com a educação dos estudantes. Afinal, pesquisas recentes apontam que a mediação realizada por tecnologias no contexto escolar não significa necessariamente auxílio, estímulo ou apreensão e construção de conhecimentos. Na verdade, a plataformização da educação indica a estrutura neoliberal que, com seus tentáculos, agarra a escola e mantém o status quo operando de maneira que alguns aprendam e prosperem enquanto outros, apesar de não estarem determinados a isso, são condicionados a se coisificar e a desaprender a esperançar.
A instituição escolar, sob esses termos, inviabiliza a conscientização e a eticização do mundo tão almejadas no pensamento freireano, pois trata a comunidade escolar a partir de uma visão alienante, estranha e fria, não humana, amorosa e esperançosa, como deveria ser. Apesar de não termos pretensão de esgotarmos o tema, fazemos questão de reforçar as palavras de Freire para que não percamos de vista a luta e a possibilidade de revertermos esse cenário: “É neste sentido, entre outros, que a pedagogia radical jamais pode fazer nenhuma concessão às artimanhas do ‘pragmatismo’ neoliberal que reduz a prática educativa ao treinamento técnico-científico dos educandos. Ao treinamento e não à formação. A necessária formação técnico-científica dos educandos por que se bate a pedagogia crítica não tem nada que ver com a estreiteza tecnicista e cientificista que caracteriza o mero treinamento. É por isso que o educador progressista, capaz e sério, não apenas deve ensinar muito bem sua disciplina, mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica em que é uma presença” (FREIRE, 2000: 22, grifos do autor).
Referências
- Barbosa, Renata; Alves, Natália (2023). A reforma do ensino médio e a plataformização da educação: expansão da privatização e padronização dos processos pedagógicos. E-Curriculum, São Paulo, v. 21, p. 01-26.
- Dardot, Pierre; Laval, Christian (2016). A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo.
- Freire, Paulo (2020). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra.
- Freire, Paulo (2000). Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora Unesp.
- Laval, Christian (2019). A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino público. São Paulo: Boitempo.
- Mazza, Débora. (2021). Paulo Freire e o pensamento educacional brasileiro. In: Paixão, Alexandre; Mazza, Débora & Spigolon, Nima. (orgs.). Centelhas de transformação: Paulo Freire e Raymond Williams. São José do Rio Preto, SP: HN, p. 191-222.
- Pesquisa-ação e gerencialismo de plataforma da rede estadual paulista de educação. (https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/8882 )
……….
Rafael Henrique Ferreira Damico,
Cientista Social (PUCCAMP), Mestrando em Educação (Unicamp), professor da rede estadual paulista
Palavras-chave: Paulo Freire, EDUCAÇÃO, neoliberalismo, plataformas digitais