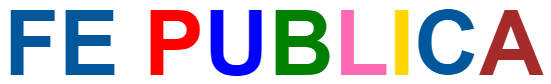Ângela Soligo
Docente sênior do Departamento de Psicologia da Faculdade de Educação
Estudiosa de relações raciais e de gênero. Feminista antirracista.
Não farei aqui uma análise política ou tática da chacina do Rio de Janeiro de 28 de outubro de 2025. Deixo essa tarefa a pessoas mais capacitadas.
Quero, como estudiosa de representações sociais, como alguém que está sempre buscando o que, mesmo invisível, não declarado, suposto, subjaz e orienta as ações humanas. Não falo aqui do inconsciente, esse motor de nossas vidas, mas de algo que se apresenta como tão natural, tão inexorável, tão simples e comum, que deixamos de perceber e pensar. E que acaba vindo morar em nossos olhos.
Aprendemos ao longo de nossas vidas, por meio das frases que nossos familiares nos diziam para nos amedrontar, que o homem do saco ia nos pegar se saíssemos à rua, que o boi da cara preta iria nos pegar se não dormíssemos – aprendemos a temer os que carregam seus pertences em sacos, os que têm a cara preta: os pobres e os negros.
Também vimos e ouvimos nas mídias, que as favelas são sujas, que abrigam os “inúteis” e os bandidos. Incontáveis e recorrentes vezes vimos em novelas brasileiras, cenas que mostram uma de duas faces das favelas: armas, crime, violência ou festa ininterrupta, o samba e o funk representados como vadiagem, malandragem, “coisa de preto”. Não a favela dos que trabalham nas casas e empresas abaixo dos morros – faxineiras/os, cuidadoras/es, empregadas/os domésticas/os, babás, manicures, enfermeiras/os, professoras/es, artistas, pedreiros, seguranças, zeladores/as, vendedores/as, operárias/os, motoristas, empreendedoras/es, trabalhadoras e trabalhadores das mais diversas profissões – em geral, aquelas de que a classe média e a elite necessitam, mas rejeitam. Os desprezados sociais de Moscovici, os condenados da terra de Fanon.
A essa visão estereotipada recorrente e naturalizada, que reproduzimos sem pensar, alia-se a representação da necessidade do estado forte, da violência para combater a violência, do aparato policial como arma moral – “bandido bom é bandido morto”.
Assim, as representações sociais, nossos olhos para o mundo, são moldadas para ver o outro pobre/negro, como inimigo, como ameaça, perigo, a favela como lata de lixo – lixo humano, que se pode matar sem justiça e empilhar nas ruas à espera de que algo os leve.
E assim pensando, elegemos como aliados as figuras “fortes”, poderosas, que prometem o impossível – acabar com a violência que eles mesmos produzem. O recado de alguns governadores (Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, DF), que se unem para formar um consórcio apoiador à barbárie do Rio
de Janeiro e disseminá-la em seus estados, é claro: somos fortes, não precisamos do governo federal, e vamos atirar para matar. Vamos combater os supostos criminosos, não as fontes do crime – somos os super-heróis de papel. E assim alimentam a ideia de força e violência como remédios, que assim como qualquer paliativo, não atacam o problema, apenas mascaram.
A eles se aliam os que abertamente defendem a barbárie – Nikolas Ferreira, exaltando a coragem e chamando à ampliação das chacinas, usando El Salvador, governo ditatorial de exceção, como exemplo; Pablo Marçal, covardemente culpando as mães das favelas pela chacina, por suas supostas más escolhas de parceiros – e tantos outros. Nenhum traço humano, nenhum sentimento.
E assim, dia após dia, ano após ano, nossos olhares vão sendo educados, induzidos para a violência, naturalizada, exaltada. São esses olhos que, nos pleitos eleitorais, orientam escolhas – haja vista a composição atual da Câmara Federal, de Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais;
escolhas pelos “fortes”, endinheirados, os “machos alfa”.
Olhos que matam.
Referências
Fanon, Frantz. (1968). Os condenados da terra. 2a ed. São Paulo: Civilização Brasileira.
Moscovici, Serge. (2009). Os ciganos entre perseguição e emancipação. Sociedade e Estado, 24 (3): 653-678.